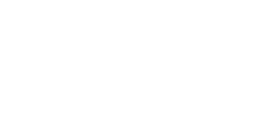|
|
|
|
|
por Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro |
 Entre 2003 e 2013 atravessamos um período inédito em nossa história. Combinamos crescimento econômico, com a integração produtiva de amplas parcelas da população, extensão das políticas de proteção social e retomada do planejamento governamental. Os números são conhecidos, mas, quando justapostos, não deixam de surpreender. O PIB foi multiplicado por quatro, 21 milhões de empregos formais foram criados, 36 milhões de pessoas saíram da pobreza, a renda familiar per capita aumentou 35%, o número de pessoas com acesso ao crédito passou de 70 milhões para 120 milhões, 1,5 milhão de moradias populares foram construídas. Foi o terceiro ciclo reformista1 vivido pela sociedade brasileira, o qual dessa vez se tornou um projeto político legitimado e colocado em prática.
Entre 2003 e 2013 atravessamos um período inédito em nossa história. Combinamos crescimento econômico, com a integração produtiva de amplas parcelas da população, extensão das políticas de proteção social e retomada do planejamento governamental. Os números são conhecidos, mas, quando justapostos, não deixam de surpreender. O PIB foi multiplicado por quatro, 21 milhões de empregos formais foram criados, 36 milhões de pessoas saíram da pobreza, a renda familiar per capita aumentou 35%, o número de pessoas com acesso ao crédito passou de 70 milhões para 120 milhões, 1,5 milhão de moradias populares foram construídas. Foi o terceiro ciclo reformista1 vivido pela sociedade brasileira, o qual dessa vez se tornou um projeto político legitimado e colocado em prática.
Retornamos a partir de 2013, entretanto, ao ciclo de crise prolongada, com muitos dos ingredientes que estiveram presentes no período 1978-1991: estagflação, elevada taxa de desemprego aberto, informalização do trabalho, diminuição da renda do trabalho, exacerbação das desigualdades, para mencionar alguns dos fatos associados à permanente questão social brasileira. O momento econômico que vivemos agora atualiza a crise estrutural de nosso desenvolvimento capitalista em seus impasses para combinar crescimento econômico, inclusão, distribuição e proteção social.
Será certamente um longo ciclo, cujos primeiros sinais fazem transparecer nosso estrutural conflito opondo aqueles que controlam o excedente e o conjunto dos destituídos de títulos e de proteção na participação no sistema de forças que comandam os mecanismos distributivos da sociedade. Como dizia Celso Furtado a respeito da crise dos anos 1980: “Um estudo mesmo sumário da sociedade brasileira deixa ver que a apropriação do excedente – entendido como o produto social que não é utilizado para reproduzir a população – obedece a um sistema de forças que pode ser descrito a partir dos seguintes elementos: a) controle da terra; b) controle de mercados de estruturas oligopolistas; c) controle dos fluxos financeiros; d) estruturas corporativas; e) estruturas sindicais” (Furtado, 1981, p.62).
O conflito distributivo está hoje agudizado em função de duas transformações que ocorreram na sociedade brasileira. De um lado, o surgimento e a expansão do Sistema de Proteção Social, cuja origem foi a Constituição de 1988 – primeiro e verdadeiro contrato social da sociedade brasileira –, institucionalizado nos anos 1990 e amplamente universalizado nos governos do PT. Essa ampliação colocou no sistema de forças identificado por Furtado importantes parcelas da população – os famosos “40%” –, que, por controlarem apenas sua força de trabalho, sempre estiveram excluídas ou marginalizadas dos mecanismos distributivos do excedente. Elas conformam o grupo da sociedade denominado pelo economista Marcio Pochmann os “intocáveis”2 pelas políticas públicas de integração e proteção social. São vários os indicadores que evidenciam os efeitos redistributivos e de inclusão produtiva dessa transformação. De outro lado, o aumento do poder da histórica força internacional liberalizante da economia nacional com a expansão do poder das frações dos capitais financeiro e primário-exportador. O fundamento do atual ciclo de crise estrutural de nosso padrão de desenvolvimento capitalista é em grande parte devido ao rompimento do bloco de poder que permitiu desde 2003 um equilíbrio entre aquelas duas forças e seus interesses, expresso em uma política que combinou incentivo e apoio à acumulação do grande capital e a expansão das políticas sociais de proteção e redistributivas do excedente, que no governo Dilma se traduziu na ilusão de um ensaio desenvolvimentista. São múltiplas as razões da dissolução da coalizão produtivista. Vão desde as de caráter político-ideológico, muito bem analisadas por André Singer (2015) em seu texto “Cutucando onças com varas curtas”, até as relacionadas com o atual momento da crise econômica internacional e as consequências da espetacular queda dos preços dascommodities.
A situação institucional criada com o golpe parlamentar em curso faz surgir sinais claros de um processo de ajuste político do padrão de governo às exigências da transformação da economia brasileira em plataforma internacional de valorização financeira e de produção de bens primários para exportação, como bem identificou Leda Paulani (2013). O anterior projeto neoliberal dos anos 1990 se amplia e propõe reformas do Estado que consolidem a destruição criativa do arcabouço regulatório construído na Constituinte de 1988 e expandido no contraditório experimento neodesenvolvimentista iniciado na segunda metade dos anos 2000.
Não é por acaso, portanto, que o barômetro do atual debate seja a crise fiscal. A desorganização das finanças públicas promovida pelas trapalhadas cometidas pelo grupo desenvolvimentista que substituiu no comando da política macroeconômica os remanescentes do Plano Real alimenta na sociedade a hegemonia da explicação da crise como consequência do excesso de direitos sociais concedidos pela expansão do Sistema de Proteção Social.
Para o economista Marcos Lisboa (ex-secretário de Política Econômica do governo Lula – 2003-2007), por exemplo, tal expansão teria constituído o fenômeno denominado rent-seeking no Brasil, ou seja, o fato de que grupos especiais conseguem obter privilégios e benefícios de agências do governo.3 Os primeiros passos na direção do ajuste ultraliberal foi colocar nas mãos de dois notórios representantes dos interesses financeiros os postos-chave do comando da economia: Henrique Meirelles para o Ministério da Fazenda e Ilan Goldfajn no Banco Central. O movimento seguinte da virada ultraliberal foi a aprovação pela Câmara dos Deputados da prorrogação e ampliação da Desvinculação das Receitas da União (DRU), que poderá retirar até R$ 120 bilhões da seguridade social para financiar o superávit fiscal.
Se isso acontecer, na prática, o artigo 6º da Constituição Federal, que estabelece como “direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”, se tornará letra morta. Em outra frente, a coalizão ultraliberal busca viabilizar politicamente uma reforma ainda mais destruidora do arcabouço regulatório da seguridade social por meio da PEC que limita o aumento do gasto público à variação da inflação. A proposta é que a fixação do teto para os gastos tenha validade de vinte anos, a partir de 2017, com a possibilidade de revisão da regra a partir do décimo ano de vigência.
Em outras palavras, o golpe parlamentar, associado à perda de legitimidade política dos protagonistas da plataforma redistributiva, criou as condições para a retomada do projeto do Estado mínimo, requerido pela consolidação da economia brasileira como plataforma de valorização financeira e de produção de commodities para exportação, que a viabiliza por seu papel na geração das divisas internacionais necessárias à nossa inserção passiva no capitalismo financeiro global.
Estamos diante de um cenário semelhante ao dos anos 1980. É bastante provável que venhamos a enfrentar uma “longa década perdida” na medida em que, de um lado, será muito difícil derrotar politicamente a força e os interesses associados à dinâmica liberal internacionalizante e, de outro lado, será complicado com uma só penada anular os direitos dos 40% que foram incluídos no Sistema de Proteção Social.
E como ficará a cidade nesta “longa década perdida”? O período 2003-2013 foi marcado pelo confronto de dois projetos antagônicos no plano da cidade. De um lado, o representado pelos ideais, princípios e mecanismos da reforma urbana que obteve alguns avanços na afirmação do direito à cidade e, de outro lado, o projeto representado pela ideologia da competividade e do empreendedorismo urbano, que, com o impulso dos megaeventos esportivos, foi experimentado em algumas importantes cidades. De qualquer forma, as políticas urbanas foram caracterizadas pela hibridação dessas duas orientações, em função das distintas correlações de força locais e de suas articulações com as forças interescalares. Qual será o cenário para os próximos anos em função da perspectiva de uma nova “longa década perdida”?
A reflexão sobre esse tema torna-se fundamental considerando três aspectos. O primeiro é o fato de que o município ganhou a partir de 1988 papel relevante de agente gestor do Sistema de Proteção Social, entre outras razões, pela crescente municipalização das políticas sociais: saneamento, habitação, ensino, merenda escolar, assistência social, saúde etc., como bem demonstrado por Marta Arretche (2011; 2012). Sem dúvida, no ordenamento constitucional, político e institucional, existe formalmente hoje um sistema municipal de bem-estar social de que prefeitos e vereadores devem obrigatoriamente dar conta em seus projetos políticos.
Trata-se de um sistema bastante universal de proteção social, uma vez que potencialmente provê a todos os cidadãos serviços coletivos básicos, independentemente da localização de sua residência no território nacional. Seu adequado funcionamento abre as portas das políticas sociais aos intocáveis da sociedade brasileira e, consequentemente, do excludente sistema de distribuição do excedente mencionado anteriormente. Sabemos, contudo, que a efetivação das promessas de universalização desse descentralizado Sistema de Proteção Social é ainda dependente das relações intergovernamentais, uma vez que seu financiamento depende fortemente dos recursos transferidos por meio dos fundos públicos geridos centralmente pelo governo federal e secundariamente pelos governos estaduais.
Este é o segundo aspecto a considerar: a frágil capacidade fiscal e financeira dos municípios para exercerem plenamente esse papel de provedor do Sistema Nacional de Proteção Social. Dos cerca de 3.466 municípios, 63% têm orçamento dependente em 50% dos recursos oriundos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Fundo de Participação de Estados e Distrito Federal (FPE), por exemplo. Outra parcela importante do financiamento fiscal do município decorre das transferências vinculadas aos fundos federais que dão suporte à municipalização da política social.
Como bem demonstrou Sol Garson (2009), além de grande dependência das transferências constitucionais e legais do governo federal e dos governos estaduais, as finanças municipais têm como traço uma estrutura rígida, na qual o peso das despesas com o custeio é tal que deixa pouca margem de capacidade de investimento. Este depende de ações em cooperação com outros níveis de governo – essencialmente o federal – e mais recentemente com a iniciativa privada na forma das parcerias público-privadas.
O terceiro aspecto a considerar é a contradição entre a função de gestor de serviços sociais do município e a lógica político-eleitoral predominante no plano local. Com efeito, considerando a predominância da gramática clientelista e paroquial do plano municipal, há poucos incentivos políticos para prefeitos e vereadores priorizarem as políticas sociais em suas estratégias de reprodução eleitoral. Não se torna muito atrativo às elites locais gerir recursos de custeio carimbados e prestar serviços sociais por meio de políticas públicas formatadas no plano nacional. Essa contradição tende a tornar-se maior à medida que o ajuste econômico se centralizar no aperto fiscal do governo federal, escasseando ainda mais as fontes de financiamento da ação do município no Sistema Nacional de Proteção Social.
A solução dessa contradição tem sido buscada em municípios maiores por meio de políticas fundadas no que poderíamos chamar de obsessão pelo investimento. Ou seja, considerando o elevado rendimento político-eleitoral dos investimentos públicos, especialmente os que promovem a chamada “renovação ou revitalização urbana” e/ou a “modernização dos serviços urbanos via privatização”, tanto pela maior visibilidade política como pelas possibilidades de gerar fontes de financiamento de campanhas eleitorais, os constrangimentos fiscais e financeiros têm incentivado muitas prefeituras a adotar estratégias de desenvolvimento local baseadas no empreendedorismo urbano e na competividade entre cidades, com base na formação de coalizões locais privatistas.
Sabemos os efeitos preocupantes de tais estratégias em termos do liberalismo urbano praticado na regulação do uso e ocupação do solo, como estratégia de ativação dos circuitos da acumulação inseridos da produção do espaço urbano construído. Podemos supor que o quadro criado pela busca de respostas ultraliberais à crise econômica, centrada no ajuste fiscal, incentive a difusão desse modelo de desenvolvimento urbano experimentado até agora apenas por algumas cidades de grande porte – como Rio de Janeiro e Salvador – à medida que seja vislumbrado pelas elites locais como alternativa para realizar seus projetos político-eleitorais.
Já podemos encontrar sinais nessa direção. Parcelas do capital financeiro vêm se organizando para constituir amplos fundos de investimento privado para suprir as necessidades de financiamento de infraestrutura, mobilidade urbana e serviços coletivos. Por exemplo, segundo a Folha de S.Paulo (17 jul. 2016), a gestora Vinci Partners, constituída por ex-sócios do Pactual, está empenhada em levantar de US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão para criar um fundo de financiamento para projetos dos setores de energia, transportes e saneamento, e neste último a intenção é comprar empresas municipais. O agravamento da crise fiscal certamente pressionará mais ainda os governos municipais a procurar saídas por meio da transformação das cidades em máquinas de crescimento e/ou da privatização dos serviços urbanos.
Duas consequências importantes a serem examinadas: por um lado, o estabelecimento de um conflito entre a importante função municipal no Sistema de Proteção Social e os projetos empreendedores da cidade; por outro lado, à medida que o liberalismo urbano se instalar e se difundir, poderemos antever um aumento do custo urbano de reprodução social pela elevação das tarifas de serviços, de transportes, da terra, da moradia etc.
Em outras palavras e resumindo o ponto central desta proposta de reflexão: o desdobramento da crise econômica no plano local pode ser a generalização e a radicalização do conflito já vivido em alguns municípios entre a cidade como “máquina de crescimento”, funcionando a favor dos interesses privados da acumulação urbana e das elites políticas, e sua função de agência do Sistema Nacional de Proteção Social. Ou seja, é possível que o pêndulo da ordem urbana se desloque mais claramente do polo cidade do bem-estar social para o da cidade da acumulação urbana, fato que seria traduzido em políticas urbanas habilitadoras das forças mercantilizadoras do solo urbano, da moradia, privatização dos serviços coletivos etc.
Esse fato seria novo no atual ciclo na história da “longa década perdida”. Nos anos 1980, sob a pressão dos mais vulneráveis dos intocáveis, as elites políticas locais foram obrigadas a aceitar – e usaram como moeda política – a política perversa de tolerância do crescimento das moradias em favela e até em áreas públicas, as invasões de prédios abandonados, o crescimento da economia popular de rua, a expansão dos transportes chamados “alternativos”, enfim, impôs-se a tolerância de uma série de práticas de uso da cidade nas estratégias de sobrevivência das camadas populares. Foi a era das coalizões políticas na direção de políticas fundadas no populismo, no clientelismo e mesmo no assistencialismo urbano.
Caso esta reflexão tenha algum fundamento, é possível antever que o atual ciclo de crise de nosso padrão de desenvolvimento capitalista deverá colocar a luta pelo direito à cidade no centro dos conflitos sociais, como nova expressão do estrutural conflito distributivo da sociedade brasileira.
Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro
Coordenador nacional do INCT Observatório das Metrópoles.
1 O primeiro ensaio reformista corresponde ao projeto dos anos 1960 conhecido como Reformas de Base, sufocado pela ditadura (1964 a 1985), e o segundo, ao programa Esperança e Mudança, elaborado em 1982 por um conjunto de intelectuais progressistas abrigados no PMDB como proposta para a transição democrática, derrotado pela crise econômica e suas repercussões no quadro político dos governos conservadores do período.
2 “Aqui a condição de intocável se apresenta de forma mais sofisticada, subentendida por diversas modalidades de manifestação da exclusão de parcela considerável da sociedade sob a forma da cor e gênero, da pobreza e desigualdade, do trabalho a qualquer custo, da informalidade que marginaliza o acesso ao sistema de proteção social e trabalhista, da moradia inapropriada, entre outras… Assim, a histórica manutenção dos intocáveis, por opção das elites dirigentes das políticas públicas, terminou por patrocinar a existência de uma legião de serviçais que reproduzem um padrão de consumo diferenciado dos estratos de renda intermediário e superior” (Pochmann, 2014, p.9).
3 Ver em: www.insper.edu.br/working-papers/working-papers-2013/democracy-and-growth-in-brazil/
Referências bibliográficas
ARRETCHE, M. Estado federativo e políticas sociais. Determinantes da descentralização. Rio de Janeiro: Revan/Fapesp, 2011.
______. Federalismo, democracia e centralização no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV/Editora Fiocruz, 2012.
FURTADO, C. O Brasil pós-milagre. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
GARSON, S. Regiões metropolitanas: por que não cooperam? Rio de Janeiro: Letra Capital/Observatório das Metrópoles, 2009.
PAULANI, L. Acumulação sistêmica, poupança externa e rentismo: observações sobre o caso brasileiro. Estudos Avançados, São Paulo, v.27, n.77, 2013.
POCHMANN, M. A vez dos intocáveis no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2014.
SINGER, A. Cutucando onças com varas curtas. O ensaio desenvolvimentista no primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014). Novos Estudos Cebrap, São Paulo, ed.102, jun. 2015.
Fonte: Fetamce